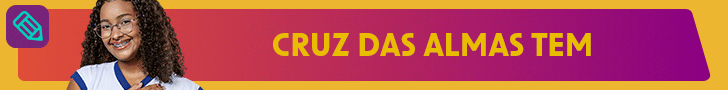A Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) anunciou, em 29 de maio de 2025, a Opinião Consultiva 32, na qual reconheceu, por maioria, a existência de um direito humano ao clima saudável, bem como que a natureza e seus componentes são sujeitos de Direito. Trata-se de um documento que caminha de modo paradigmático para contribuir na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.
A análise aqui feita justifica-se pela importância de refletir sobre o que foi emitido pela CIDH tendo em vista o seu impacto no Direito Internacional, enquanto jurisdição dos países que adotam a Convenção Americana e também da própria obrigatoriedade decorrente do controle de convencionalidade[1]. Neste sentido, destaca-se que tal parecer pode representar um marco para o Direito Internacional perante a questão da emergência climática no que diz respeito aos direitos dos grupos vulnerabilizados.
Não se trata, entretanto, do primeiro parecer em relação às mudanças climáticas em tribunais internacionais. Anteriormente, o Tribunal Internacional do Direito do Mar (ITLOS) também já havia tratado sobre o tema, sendo este focado na consequências do aumento da temperatura planetária no mar[2].
Já a Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU) aguarda o parecer da consulta realizada perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ) que, da mesma forma, questiona os compromissos estatais perante o cenário ambiental.
Diante desse cenário, a Opinião Consultiva 32 promoveu avanços, em várias frentes, no debate das emergências climáticas, como enfatizar a necessidade de considerar os impactos diferenciados no cenário climático. De outro modo, isso quer dizer que mesmo que a humanidade tenha enfrentado um panorama no qual se denuncia a sua vulnerabilidade ontológica[3], principalmente resultante de sua condição corporal, alguns grupos são diferencialmente afetados.
A exposição de dados denuncia que os efeitos negativos das mudanças climáticas não são democráticos. Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mais de 60% das crianças e dos adolescentes do Brasil estão expostas a condições de seca ou de enchentes[4]. Já considerando informações produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), restou evidente que pessoas racializadas estão situadas em locais precarizados, como sem saneamento básico.
Considerando essa problemática, a CIDH entendeu, na referida Opinião Consultiva, que os Estados são obrigados a estabelecerem políticas públicas com proteção diferenciada para grupos vulnerabilizados, posto que os processos de vulnerabilização determinam a amplitude dos efeitos das mudanças climáticas. Houve um destaque especial a três grupos: (i) crianças e adolescentes, (ii) povos indígenas, comunidades afrodescendentes e camponesas, (iii) mulheres, idosos e pessoas com deficiência[5].
Quanto às crianças e aos adolescentes, em virtude de serem pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, questões como a degradação e a contaminação ambiental podem provocar danos que afetam a questão anatomofisiológica. O destaque, portanto, centrou-se em observar os efeitos decorrentes das diferenças biológicas que essas pessoas têm de adultos, já que a adequada falta de nutrição ou o acometimento de doenças, por exemplo, podem impedir um desenvolvimento físico, cognitivo e emocional adequado que gera consequências para toda a vida.
Para pessoas racializadas, indígenas e camponeses, a CIDH circunda a ideia de racismo ambiental quando identifica as consequências de eventos climáticos extremos para tais grupos vulnerabilizados. Uma das principais questões se dá pela dependência da natureza para a manutenção da vida e da própria condição financeira daqueles que residem, por exemplo, próximo às margens de rios e de zonas costeiras. O entendimento foi de que medidas progressivas são necessárias no sentimento de reconhecer, sob um viés interseccional, a importância de identificar e ouvir como as comunidades tradicionais têm sido impactadas pelas mudanças climáticas.
Perante as mulheres, idosos e pessoas com deficiência, houve um aprofundamento sobre as especificidades de cada grupo, como a questão da violência de gênero frente a desastres, ou a própria centralidade no cuidado, além dos efeitos de eventos extremos na mobilidade e na saúde de pessoas já vulnerabilizadas. Ainda houve menção à população LGBTQIAPN+ e pessoas em condição de pobreza, que sempre está entrelaçada com outros marcadores sociais.
O ponto fulcral observado é a importância de que os Estados utilizam de um olhar que considerem a posicionalidade[6] dos grupos vulnerabilizados perante a emergência climática. Diante da complexidade deste problema, as respostas produzidas pelas instituições público-estatais demandam formulação que escute[7] as pessoas afetadas, mobilizando um humanismo crítico que estabelece o “compromisso persistente com as possibilidades e poderes da vida, uma precondição para a reconstrução do humano na política e na cultura”[8].
Logo, para além de ser fundamental que a relação humano-natureza seja revista sob uma lógica que evidencia a dependência de cada pessoa do externo, o cuidado emerge como um princípio de redistribuição[9], frente aos efeitos diferenciados. Os ideais de justiça social, na contemporaneidade, demandam que essa perspectiva seja central para mitigar cenários de vulnerabilização que, cada vez mais, dificultam a manutenção da Terra enquanto um planeta com condições de vivibilidade.